Desde criança, Luciana Brites comandava as bagunças culturais em família: dança, teatro, música, improviso e tudo que tivesse ritmo, movimento e atitude. Foi assim, organizando o movimento desde a infância gaúcha, que ela se transformou numa visceral e apaixonada artista com formação múltipla.
Atriz, bailarina, coreógrafa, diretora e coach corporal. Hoje é professora de yoga, fundadora da DOM School, instituição de ensino de yoga e arte, que comanda ao lado da parceira Inês Fonseca. Lu, como é carinhosamente chamada pelos amigos, nasceu e foi criada em Porto Alegre, morou muitos anos em São Paulo, outros tantos no Rio de Janeiro. Atualmente divide-se entre Nova York e o Brasil, especialmente no Rio, mas levando seu trabalho autoral para todo o país.

Foto: Pipa Andreoli 
Foto: Pipa Andreoli
Primogênita do empresário Potiguara e da advogada Maria do Horto, Lu é irmã de Gabriela e Rafaella e mãe de Miranda, filha que teve com o ator Gustavo Machado. Vive ao lado da filha e do companheiro americano Daniel Sternoff, que motivou sua ida para NY, cidade onde também faz a formação com o mestre Sri Dharma Mittra, mineiro de nascimento e radicado nos Estados Unidos.
Seus primeiros contatos com a dança foram com os conterrâneos Edson Garcia e Anete Lubisco, depois com Eva Schull. Aos 17 anos, dançar passou a fazer parte da sua vida. Em 1993, depois de dois anos de aprendizado em sala de aula, cursos e ensaios, trocou Porto Alegre pelo Rio de Janeiro para participar do show e programa de TV Básico Instinto com Fausto Fawcett.
De 1993 a 1996 integrou a Cia. de Dança Deborah Colker, passou pela Intrépida Trupe de Circo-Teatro e em 1997 escolheu Paris para fazer formação em dança no Studio Harmonic, onde iniciou uma pesquisa em movimento no projeto Distorsion. Em Londres, faz a formação em teatro físico com o diretor David Glass.
De volta ao Brasil, em 1999, cria coreografia e pesquisa em dança contemporânea e sapateado para o espetáculo Ritmos do Brasil com a Cia. Brasileira de Sapateado. No mesmo ano, interpreta Suzana no episódio do seriado Mulher na Rede Globo e participa do coletivo de poetas Cep 20.000 ao lado do autor Michel Melamed, quando desenvolveu pesquisa autoral em movimento e performance.

Nunca mais parou quieta ou sossegou corpo, mente, coração e alma. Com ela sempre foi assim. Tudo junto misturado em uma só consciência. Intensa e atenta às suas verdades e intuições sobre a arte, o ser humano e seu equilíbrio.
Nas últimas décadas, Luciana Brites dedicou-se incansavelmente a todas essas vertentes. Dirigiu, coreografou, ensinou, dançou e atuou em uma centena de espetáculos para teatro, televisão e cinema, eventos de moda, filmes publicitários, clipes e performances. Em 2001, fundou o grupo Cavallaria Cênicas e em 2003, aos 25 anos, começou a dar aula de Asthanga Yoga. Foi uma das coreógrafas brasileiras selecionada para o Programa Internacional de Residência Coreográfica Chantier en Construction, em Paris.
Imersa e ativa nesta multivertente artística, Lu acredita em toda a ideia que através do yoga e da arte toque ao próximo, com verdade e amor. Ajudar as pessoas a ressignificarem suas relações com o corpo e o com o mundo tem sido seu mais instigante desafio. O trabalho de coach corporal, que realizou um pouco antes de dedicar-se totalmente ao yoga, deu vazão a toda essa catarse da busca pelo próprio equilíbrio emocional através da sintonia com o movimento, a consciência e as técnicas e ensinamentos do yoga.
A infância foi de molecagem e brincadeiras na rua Pindorama, onde moravam os avós paternos, no bairro Teresópolis, em Porto Alegre.
“Nossos pais sempre deram o melhor exemplo, o de serem pessoas realizadas, potentes. A alegria sempre foi a prova dos nove lá em casa. Somos unidos, a distância nunca nos separou. Aprendemos a dar o melhor no pouco tempo que temos. E se tiver que brigar para ficar tudo bem, fazemos isso no maior estilo gaúcho, que grita pelo que acredita e depois aperta a mão e oferece um mate.”
Sinceridade. Foi assim, transbordante de sua sinceridade que Lu circulava nos anos 90 pelo IPA, integrante do Grêmio Estudantil: livre, leve, linda, engajada e feliz: “Aos 17 entendi que se pudesse passaria o dia inteiro fazendo aulas de dança, era insaciável”.

Foi um pouco antes dessa época, aos 15 anos, que levada pelo amigo Rafael Diehl, conheceu seu primeiro mestre de yoga, o professor Cosmeli, de Porto Alegre: “Através do professor Cosmeli eu tive uma iniciação com uma figura que é considerada a primeira dama do yoga moderno, Mataji Indra Devi, aluna direta de Krishnamacharya, em um retiro que ela deu em Tramandaí no final dos anos 80”, conta, emocionada.
Mas foi só 30 anos depois que Luciana Brites soube de verdade por quem havia sido iniciada. Comprou um livro de história do yoga, em NY, onde achou toda a história de Mataji Indra Devi. Filha de uma atriz russa que foi parar na Índia por causa do marido. Lá conheceu Krishnamurti e depois passou a ser aluna de Krishnamacharya. Ela foi a primeira mulher ocidental a dar aula no Oriente. Depois da China, foi para Califórnia, deu aula para grandes atrizes, entre elas Marilyn Monroe. Passou pelo México, e do México foi parar na Argentina, onde transformou-se no ponto de ligação de todas as fontes do yoga da América Latina. Foi dar um retiro em Tramandaí, quando Lu tinha 15 anos:
“Voltei desse retiro e decidi que eu ia dormir no chão, que não ia mais comer carne, cortei o cabelo, passei a ouvir falar sobre o silêncio, sobre o yoga. O yoga entrou na minha vida para sempre. E aquele momento foi um divisor de águas. Virei vegetariana, mas foi só 30 anos mais tarde que descobri a importância e a relevância da mulher que tinha me iniciado no yoga”.
Seu terceiro mestre foi o Cristovão Oliveira, com quem fez a formação e praticou Ashtanga muitos anos. Seu quarto professor foi o mineiro Pedro Franco, da Premananda Yoga School. Hoje ela faz a formação com Sri Dharma Mitra, em Nova York.
Essa entrevista foi feita em 2014, quando Lu foi capa da quinta edição da Revista Bá, um ano antes do yoga entrar de vez na rotina e no propósito da vida desta determinada porto-alegrense. Algumas fotos desse ensaio são assinadas por Edu Monteiro para a performance Pathospalidus, que integrou o projeto A Mão Negativa, com curadoria de Bernardo José de Souza no Parque Laje, que foi inspirado no Pós-Guerra e em uma dança que vem da morte:
“Tem tudo a ver com esse momento, um renascimento, de sair dos escombros desse mundo. Esse foi meu último trabalho autoral antes da virada total para o yoga. Um parque arqueológico em que alguns seres teriam sobrevivido a uma hecatombe na terra. Senti que eu estava me despedindo de uma fase da minha vida, e foi mesmo um ritual de passagem”, recorda Luciana Brites.
Depois disso, participou de algumas peças como diretora de movimento e preparadora corporal, indicada a prêmios, mas aí já com uma visão totalmente diferenciada para a arte. Seu olhar atento já enxergavam o yoga e a arte como uma vertente única. Deslocando o palco, a tela e a cena para a vida cotidiana de todas as pessoas. Passou a considerar todas as pessoas como artistas aptos para construírem de acordo com os seus dons e com generosidade o próprio palco. Isso foi em maio de 2015. Em 2020, Lu lança ainda neste emblemático mês de abril, a plataforma digital da Dom School. Bravo Lu! Sorte a nossa.
Revista Bá – Tem saudade de algo na cidade em que nasceu e passou a infância?
Luciana Brites – Saí de Porto com 19 anos, desde muito cedo minha curiosidade pelo mundo foi grande. Tenho muitas lembranças do IPA. Os prédios de pedra, pegar sol perto do sino. Eu fazia parte do Grêmio Estudantil, então passava muito tempo por lá. Também fiz muito esporte e muitos amigos amados. A paisagem humana conta muito na memória, né?
Quando você esteve em Porto Alegre com a peça Azul Resplendor, houve um momento emocionante. Como foi?
Realmente, essa ida para Porto Alegre foi inesquecível. Já estava tudo muito emocionante: o último espetáculo no Theatro São Pedro abarrotado de gente, minha família estava toda na primeira fila, minha mãe, minha avó Danila. Contracenava com Eva Wilma e Pedro Paulo Rangel. O teatro é transmitido assim, no contato direto, ali na cena, no camarim…
O texto fala de velhice, é engraçado, mas pega fundo. Então, já na flor da pele, recebendo aquele calor do público nos aplausos finais, o coração explodindo, a cortina fecha, olho para o lado e vejo Eva Wilma sentada com as mãos sobre o rosto, soluçava. Aquela mulher, que é uma força da natureza, ali entregue. Sentei ao seu lado e embarcamos num abraço. Ela levantou o rosto banhado de lágrimas, abriu um sorriso muito lindo, deu uma risada gostosa e disse um trecho do texto da minha personagem na peça: “Posso rir e chorar, ao mesmo tempo, na mesma fala”. Detalhe, minha personagem também era atriz.
Para fechar a noite, fomos até o Teatro Bourbon assistir ao espetáculo comemorativo dos 20 anos de Bailei na Curva. No final, recebemos uma baita homenagem do diretor Julio Conte. Foi emocionante.
A arte a fascina de várias formas, mas quando beliscou você ainda adolescente, foi por meio da dança… Estar no palco dançando ainda é o que a faz mais feliz? Se não, o que é o mais prazeroso para você?
Eu poderia dizer que o espaço total de criação para mim é quando estou ao lado dos meus parceiros criando com a companhia de dança e teatro que diriji e atuei. Mas estaria sendo injusta com os momentos sublimes que vivi quando interpretei personagens como Leah Felt, de A Descida do Monte Morgan, de Arthur Miller, com direção de Luis Villaça, entre tantos outros. Então o justo é dizer que o mais prazeroso é o que pode ser realizado, seja dançando, seja atuando, seja dirigindo. Todo prazer me diverte.
Quando decidiu investigar mais sobre corpo, movimento, suas relações com a vida e a arte, o que mais a fascinou? Lembra do momento e de como foi fisgada pela arte?
Eu devia ter uns 14 anos e comecei a perceber que havia uma inquietação exagerada em mim. Uma necessidade de originalidade que ia contra a fase adolescente em que todo mundo quer ser igual. Eu não queria ser igual. Eu queria criar! Todo mundo vestia isso, eu queria vestir aquilo, meninas usam cabelo longo, eu uso curto. Salto alto? Eu uso bota baixa. Disney no début? Deus me livre!
Enfim, eu causava, no colégio e em casa (risos)… Dançava desde quatro anos, fazia capoeira, yoga, lia muito e era fissurada por cinema. Tinha uma verve meio maluca, mas não era capaz de traduzir conscientemente tipo “acho que sou artista”.
Aí entram os Souza, um casal de irmãos cheios de cultura, sabiam tudo dos Tropicalistas, cinema europeu, arte em geral. Vivíamos juntos criando situações que nos divertissem, que nos tirassem do que chamamos de tédio. Comecei a fazer aulas de dança todos os dias, fissurada! Primeiro com Edson e Anette, e depois com a mestra Eva Schull.
Aos 17, entendi que, se pudesse, passaria o dia inteiro fazendo aulas de dança Era insaciável. Nessa idade, fiz uma escolha difícil entre a fotografia e a dança. Daí para frente, foram muitas, muitas, muitas horas de aprendizado em sala de aula, cursos, ensaios.
E o aspecto que mais me fascinou, fora o prazer em si do movimento, digamos conceitualmente, foi quando passei a perceber que tudo o que está vivo está em movimento. E isso já era, mesmo muito inconsciente em mim, uma visão tântrica do mundo e das relações das pessoas com o planeta. Algo que foi a minha experiência precoce com o yoga que motivou. Passei a ver a vida como uma grande coreografia, um palco no qual cada gesto cotidiano — tomar banho, transar, jogar bola, etc. — contém uma expressão admiravelmente bela.

Foto Monica Imbuzeiro / Agencia O Globo 
Foto: Monica Imbuzeiro / Agencia O Globo 
Foto: Monica Imbuzeiro / Agencia O Globo 
Foto: Monica Imbuzeiro / Agencia O Globo
Dá para dizer que Luciana Brites integra uma escassa geração brasileira de artistas que contam as histórias de outra forma, misturando linguagens artísticas sem hierarquia dentro de um espetáculo?
Olha, conheço muita gente cheia de talentos que não se dá ao luxo que me permito. O que acontece é que mercadologicamente você tem que imprimir cedo qual o seu negócio, para fazer aquilo render o mais rápido possível. Quando você transita, você se torna menos vendável. Exige ainda mais de um artista do que as carreiras mais monogâmicas.
A Cavallaria tem um muso chamado Flavio de Carvalho, um modernista que foi considerado “o antropófago ideal” por Oswald Andrade. Uma de suas grandes características foi ter atuado em muitas áreas da arte, ou seja, ser múltiplo não é novo, é apenas uma questão de estilo, e no meu caso é uma necessidade.
Você inaugurou um novo estilo de expressão artística no Brasil com Lavanda, em 2007?
Foram anos dentro de um ringue. De um lado a bailarina; do outro, a atriz e ainda um juiz com a câmera na mão querendo filmar tudo, saca? Lavanda é o encontro desse trio. As vertentes que carrego se deram as mãos e decidiram ir para o palco e pararam de me encher o saco.
A dança-teatro brasileira é uma linguagem incipiente no Brasil, isso é um fato. Mas sobre inaugurar um novo estilo, sinceramente, em termos de linguagem, não me considero precursora. Marilena Ansaldi é uma grande figura brasileira dessa linguagem, e não é de hoje. O que acho que tenho é um estilo original.
O jeito de olhar, que mexe com as pessoas. E credito isso à minha profunda necessidade de comunicação. Nunca gostei de fazer arte para o meu umbigo, eu trabalho em troca de afeto. Afeto no sentido de afecção, o que afeta aquela figura que saiu de casa, deixou o filho, o livro e pagou para estar ali ao vivo comigo.
Eu me foco na beleza, no ritmo, no humor, nas cores, sobretudo na alegria. E para produzir alegria por meio da cena, temos que fazer o belo, pois essa é uma alegria estética que só acontece quando o sensível é atingido. Eu me foco em penetrar o público. Se for preciso dançar danço; atuar, atuo; cantar, canto; escalar, filmar, sei lá, rebolar, voar, faço tudo.
Isso está acontecendo por aqui no Brasil também ou a Cavallaria e Luciana Brites têm subido ao palco mais solitária nessa proposta?
Essa desierarquização dos elementos cênicos é um conceito que se desenvolveu muito nos anos 60. Os artistas que atuavam em torno da Judson Church, em Nova York, explodiram com muitas das ditaduras da arte.
Essa herança ainda se reflete hoje em dia, e muitos artistas cênicos respiram dessa maneira de encarar a cena. Denise Stocklos, por exemplo. Ela é uma artista sob a perspectiva do movimento em perfeita harmonia com a palavra. Eu gosto de dançar, gosto de atuar, gosto de criar imagens. Às vezes, costurando tudo, outras vezes cada um separadamente.
E fora? Que referências foram essenciais para você e a criação na sua companhia, a Cavallaria Cênicas?
Em duas palavras: Pina Bausch. Mais duas? Dominique Mercy. Outros? Wim Vandekeybus (Bélgica), La La La Human Steps (Canadá), Robert Lepage (Canadá), Alain Platel e Jan Fabre (Bélgica).
Em uma entrevista em 2008, você disse sentir falta do humor na dança, em geral. Cinco anos depois, do que você sente falta na dança ainda?
Dinheiro e comunicação.
O público brasileiro já entende e consome melhor uma arte mais subjetiva, reflexiva e menos óbvia, ou ainda é difícil vender além do comercial e do ator famoso que enche o teatro?
Parafraseando o Caetano: Narciso acha feio o que não é espelho. Se eu nunca vi alguém, aquela figura me é estranha. Se eu não sei ler uma linguagem, aquela língua me é estrangeira. Se eu nunca entrei num teatro, aquele lugar não é a minha casa. Para haver familiaridade com o tipo de arte de que estamos falando, teremos que levar nossos filhos para assistir desde muito pequenos, para que esse gosto seja algo natural.
Os atores da Globo são como pessoas da família dos brasileiros. Estão presentes nos jantares, nas ceias de Natal. Você pode estar transando, brigando ou conversando com seus familiares e lá está o Fagundão ou o Lima Duarte. Eles participam da nossa intimidade há anos e anos. Isso cria um laço afetivo.
E o brasileiro é essencialmente afetivo. Tudo é questão de alfabetização. Cada uma das formas cênicas tem seu vocabulário, se é complexo entender um vocabulário sozinho imagina misturando? Adquirir uma TV é muito básico. O público de artes mais elaboradas forma-se à medida que um povo supera o nível “sobrevivência” da existência. Aí começa uma abertura para o criativo, o onírico e o delirante.
Nem todo comercial é ruim. O bom é a arte de todos os jeitos e para todos os gostos, mas o que, na sua opinião, tem sido feito no Brasil, nas escolas públicas e privadas e nas políticas culturais para que mais pessoas possam produzir e consumir uma arte mais profunda, menos simples e sem apelo?
Como estava dizendo, tudo é uma questão de alfabetização. E essa é a maior questão de todas. O desenvolvimento das artes e do público das artes está absolutamente ligado ao desenvolvimento da educação.
E mais, uma educação para o sensível focada na beleza, na experimentação, no prazer. E não para a competição, para o medo, para o consumo e para a solidão. O gosto pelo lixo cultural também se aprende.
Em cada estado do Brasil, em cada região, temos peculiaridades e diferentes demandas. O pensamento cultural e a política cultural são muito variados no Brasil. Houve um tempo em que, enquanto São Paulo já havia conquistado verbas públicas para editais de teatro e dança por meio do Movimento Contra a Barbárie, o Rio de Janeiro vivia uma seca absoluta, nada acontecia.
Essas foram conquistas da classe artística. E acredito nesse caminho. Nós devemos clamar ao governo pelo que queremos. E os recursos privados chegam até a arte quando nos informarmos sobre as conexões possíveis entre as empresas e os conteúdos.
Grandes corporações hoje têm poderes que se igualam ou até superam os poderes governamentais. Essas empresas criam leis internas baseadas nos valores das pessoas que presidem tais instituições. Se nos deparamos com figuras cultas, cuja visão de mundo é abrangente e que tenham a capacidade de entender sua própria função e responsabilidade no mundo, muitas trocas podem se estabelecer.
O contrário acontece quando ignorantes ocupam cargos efetivos e criam empresas que com o passar de anos, de atos deprimentes, devolverão aos seus próprios filhos e netos uma paisagem podre.
Sem arte, sem natureza e sem gentileza. Uma burrice sem medida — eu diria uma perversão sadomasoquista imposta a quem se deixar enganar. Cabe a nós escolher em quem votamos. E cabe a nós eleger o que consumimos.
Adorei o movimento paraguaio em que donos de estabelecimentos comerciais expulsaram políticos de seus restaurantes, lojas, etc. E por aí. Faça você mesmo. Cabe a nós estudarmos a fundo quais são as empresas e os representantes políticos, com ética que se alinham aos nossos valores.
Eu estou muito ligada no que tem sido chamado de economia criativa. Participei de um curso muito interessante sobre essa plataforma de novos conceitos sobre relações triangulares entre cultura, governo e empresas. Temos que selecionar nossas causas e ir para rua. Nós temos que ser agentes. Esse assunto é imenso! Teríamos que fazer uma entrevista toda só sobre isso!
Fale da transformação que o yoga provocou na sua vida e um pouco da filosofia que você está encabeçando e criando para a Dom?
O yoga chegou muito cedo na minha vida, então eu entendo que o yoga me trouxe a camada do sagrado muito cedo, lá com 14, 15 anos quando eu conheci o yoga.
E quando eu fiz essa escolha de desenvolver a Dom School, a minha opção foi descer do palco e ir para as salas de aula, para os retiros e os treinamentos, eu entendi que eu nunca mais saí de cena.

A transformação foi entender que o grande palco é a vida. E o método DOM é uma combinação entre os ensinamentos antigos do yoga, que, harmonizados, expandidos e combinados com a arte, nos dão instrumentos e conhecimento para que possamos expressar a vida no yoga, nas nossas experiências e relacionamentos cotidianos.
O método é baseado nisso. Trazer o yoga como equilíbrio, harmonia e expansão da consciência e a arte como a expressão do nosso dom original de uma forma generosa. Sempre focando no indivíduo e na sua relação harmoniosa com a coletividade.
- Conheça a DOM School e acompanhe as aulas online. Mais sobre Lu Brites no www.lubrites.com
Texto por Mariana Bertolucci
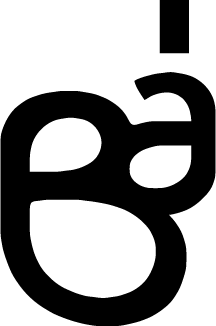






O grande palco é a vida. Amei