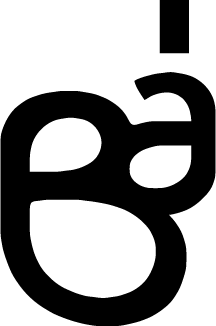Na década de 80 e 90 existia uma figura que aparecia durante as coberturas jornalísticas de grandes rolos que atraíam de todos os cantos do Brasil e de outros países um grande número de canetinhas e fotógrafos: o “papagaio de pirata”. Lembrei-me dessa história porque os colegas usaram a expressão “turistas de tragédia” para descrever um enorme contingente de curiosos que foram ver, fotografar e fazer vídeos para postar nas redes sociais a devastação nas cidades de Muçum e Roca Sales, no interior do Rio Grande do Sul, provocada pela passagem de um ciclone extratropical. Os dois pequenos municípios do Vale do Taquari foram o centro da devastação, com 25 mortes das 46 causadas pela tempestade (números de terça-feira, 12/9). Os “turistas de tragédia” causaram engarrafamentos de veículos que atrapalharam o trabalho das equipes de socorro e constrangeram a população local, que caminhava incrédula com os acontecimentos em meio aos destroços. Tiveram a entrada proibida em Muçum e Roca Sales por barreiras da Brigada Militar, como é chamada pelos gaúchos a polícia militar. Dito isso, voltemos aos anos 80.
No início da década de 80 começavam a entrar em decadência os governos militares que haviam assumido o controle do país com a derrubada, em 1964, do então presidente da República João Goulart, o Jango, do antigo PTB. Com o ocaso do regime começaram a emergir as lutas sociais e a censura à imprensa entrou em colapso. Finalmente, em 1985, a ditadura acabou e o país iniciou o processo de redemocratização com a volta das eleições diretas. Lembro os jovens colegas que ainda não existiam a internet e a telefonia celular. O monopólio da comunicação era dos jornais e revistas impressos e dos noticiários das emissoras de rádio e das redes de televisão. Assim, era comum que todos os eventos que reunissem um grande número de jornalistas atraíssem pessoas que nada tinham a ver com o que estava acontecendo. Mas entendiam que aquela era uma oportunidade de aparecer em uma foto na capa de um jornal ou de ser entrevistado por um repórter. Eu fazia a cobertura de conflitos agrários, que na maioria das vezes rendiam a capa do jornal e reuniam repórteres dos principais veículos de comunicação do Brasil e de agências internacionais de notícias. Na época, quando aconteciam os enfrentamentos entre sem-terra, fazendeiros, garimpeiros, índios, policiais militares e pistoleiros, era rotina os jornalistas se agruparem em um lugar estratégico, fora do centro do conflito, mas de onde tinham uma visão de tudo que acontecia e podiam fazer as fotos dos confrontos, que muitas vezes acabavam em mortos, feridos e muita gente presa. Depois dos enfrentamentos os negociadores entravam em campo e a situação se arrastava durante dias. E os jornais mantinham seus repórteres na região até as coisas se acalmarem. Durante todo esse tempo os jornalistas eram assediados por pessoas que não tinham nenhuma ligação com os acontecimentos. Só estavam ali para aproveitar a oportunidade proporcionada pela presença da imprensa para tentar aparecer nos jornais. Vários motivos as levavam a esse comportamento, vou citar dois: intenção de se candidatar nas próximas eleições e os famosos “15 minutos de fama”. Lembro-me que em 11 de março de 1989 eu e um grupo de colegas de jornais de todo o país e de agências internacionais de notícias estávamos na porteira da Fazenda Santa Elmira, em Salto do Jacuí, pequena cidade agrícola no interior gaúcho. A área tinha sido ocupada por 1,2 mil famílias de agricultores do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e um processo de negociação estava em andamento para a desocupação pacífica da fazenda. As negociações foram por água abaixo e a retirada dos colonos da área acabou sendo feita com uso de força policial. As tropas da Brigada Militar usaram então aviões para lançar gás lacrimogêneo sobre os acampados, fizeram vários disparos de fuzil e, no final, foram para o combate corpo a corpo com os sem-terra. Toda a história é contada no livro O Massacre da Fazenda Santa Elmira, de autoria do frei Sérgio Görgen, que estava no local e chegou a ser ferido com uma coronhada no rosto. Vários sem-terra foram feridos a bala e houve muitas prisões e denúncias de tortura. Os jornalistas ficaram quase um mês na região. Lembro-me que todas as noites apareciam nos restaurantes onde a turma jantava pessoas que não tinham nada a ver com o rolo. Mas queriam ser entrevistadas. Uma situação semelhante enfrentei em 1990, no julgamento dos assassinos do seringueiro, sindicalista e ecologista Chico Mendes, em Xapuri, uma cidadezinha no meio da Floresta Amazônica no Acre. Mendes ganhou fama mundial pela defesa da floresta, o que lhe valeu uma sentença de morte. Em 1988, foi tocaiado e morto por Darcy Alves da Silva a mando do seu pai, Darly Alves da Silva, grileiro de terras. Durante o julgamento tinha jornalistas de todos os cantos do mundo na cidade. Havia um boteco na beira de um rio onde à noite os repórteres se reuniam para beber e comer peixe frito. Em uma dessas noites, um grupo de pessoas estranhas ao julgamento cercou a mesa dos colegas europeus os ameaçou caso não publicassem o nome deles no jornal. Claro que não publicaram. Poderia ficar muito tempo contando histórias sobre importunação de jornalistas. Mas não é caso. Em 1979, quando comecei a trabalhar em redação, já era praxe os fotógrafos chamarem de papagaio de pirata as pessoas que ficavam ao redor dos famosos e de autoridades para saírem nas fotos. Nos anos 80 e 90 usamos o mesmo nome para aqueles que nos assediavam durante as coberturas de grandes eventos. Nos dias atuais, graças às novas tecnologias, especialmente o celular, o papagaio de pirata não precisa mais do jornalista para dizer que esteve onde tudo aconteceu. Basta uma foto, um vídeo ou uma transmissão online nas redes sociais. Os curiosos sempre vão existir, faz parte do jogo. Agora, se comportar como um turista em uma tragédia é outra história.
Carlos Wagner, jornalista
Foto: Lívia Stumpf/Agência RBS