Há um bom tempo atravessei o mundo para fazer uma viagem sem roteiro, na expectativa da experiência transformadora que as pessoas relatam em suas andanças por aí afora. O destino escolhido era um sonho desde a adolescência, uma ilha exótica que valoriza ritos e crenças no lado oriental do mundo. Estive em Bali durante o Nyepi, como é chamada a cerimônia de Ano Novo, onde se permanece por 24 horas em completo silêncio, meditando e fazendo jejum. É proibido usar eletricidade ou sair de casa, as praias ficam um completo deserto. O Nyepi é um dia voltado a autorreflexão. A devoção do povo balinês em cultuar tradições e coisas simples me deixou reflexiva.
Um antigo ditado clichê diz que sempre voltamos diferentes de uma viagem. Esse lugar de cultura desafiadora me pareceu ideal para colocar em tese a tal teoria. A melhor maneira de conhecer verdadeiramente um lugar é conversar com quem vive ali. Foi assim que fiz amizade com um simpático guia chamado Putu. Indo na contramão do “pra gringo ver”, pedi que ele me apresentasse um pouco da cultura local. Enquanto cruzávamos uma estrada de curvas sinuosas e mata fechada em direção ao coração da ilha, fomos surpreendidos por uma procissão. Ficamos ali, no meio do nada, acompanhando as pessoas em seu ritmo calmo e pacífico que ocupavam metade da pequena via. Eles usavam sarongs, a vestimenta local, a maioria de cor branca. As mulheres equilibravam oferendas em suas cabeças, homens carregavam totens em seus ombros. Minha busca por uma experiência inusitada havia encontrado um propósito.
Estavam todos a caminho de uma cerimônia de cremação.
Ninguém parecia consternado em comparação a apegada cultura ocidental de luto. A tristeza não ocupava espaço entre eles. Quando contei a comoção que era participar de um velório do lugar de onde eu vinha, Putu pareceu não entender. Na crença balinesa, quem morre parte para um lugar melhor. Os hindus trabalham a morte com leveza e naturalidade, enquanto nós fomos criados para negar a maior certeza da vida, que gera um temor incutido em nosso inconsciente desde nossas mais remotas lembranças. A certeza de que um dia vamos morrer. Não necessariamente quando estivermos velhos, porque não há garantia de nada, nem maneira de se evitar. Há quem torça para morrer dormindo, uma partida em paz e indolor. Assunto encerrado. O máximo que nos permitimos pensar sobre morte é afastá-la com todas as forças do nosso cotidiano.
A certeza de Putu não era diferente das verdades ditas por uma série de religiões ao longo dos séculos em que o homem desafiou questionar sua existência.
Cada crença explora diferentes versões para os dois maiores mistérios da vida, de onde viemos e para onde vamos. Mas, se nascemos e morremos como qualquer outro ser vivo, porque nós, humanos, seríamos diferentes? Essa reflexão reverbera até hoje em mim um misto de sentimentos. O que me parece mais plausível é como a humanidade exagera na sua importância, parafraseando o velho Bukowski.
Imagine então, estranhos reunidos numa tarde de sábado para tomar café e falar sobre morte? O convite inusitado surgiu através de uma fisioterapeuta, gerontóloga e doula da morte, dona de um largo sorriso, que chegou até mim através de um amigo em comum. Idealizado pelo sociólogo e antropólogo suíço Bernard Crettaz, o Death Café acontece em 90 países ao longo de quase três décadas de existência. A premissa é simples: reunir pessoas que queiram falar sobre finitude em cafés ao redor do mundo. Os encontros sempre parecem curtos para tudo que precisa ser dito.
Falar sobre morte depois do meu acidente, dois anos após aquela viagem para a Indonésia, é questão de saúde mental. Fiz terapia durante anos para entender porque a morte não me assustava. Nunca assustou. Para quem não sabe, eu quebrei o pescoço caindo de uma altura de sete metros na beira da praia. Apesar de não ter sofrido nenhum arranhão aparente, perdi os movimentos dos ombros para baixo, mas isso é papo para uma outra coluna.
O primeiro passo para naturalizar a morte é entender que podemos falar sobre ela de maneira leve e indolor. O que preenche nossos dias entre nascimento e partida é vida em seu estado puro e pulsante. As coisas que nos fazem sentir vivos formam o legado essencial que deixamos. É a única maneira de nos tornarmos imortais. Se, ao morrer, você puder escrever em sua lápide “viveu intensamente”, mesmo que cafona ou nada original, fará mais nexo do que passar uma existência temendo o fim. Ao se despir da ilusão da própria importância, tudo passa a fazer mais sentido. Compreender que é tudo um ciclo é manter o olhar contemplativo da janela por onde vemos a vida.
Encontrar estranhos para falar sobre morte pode parecer esquisito, mas foi tão transformador quanto aquela viagem que fiz há duas décadas.
*O último Death Café de 2024 acontecerá no próximo sábado, 14/12 no Cor Café y Brasa.
Sabrina Ferri, empresária e cronista
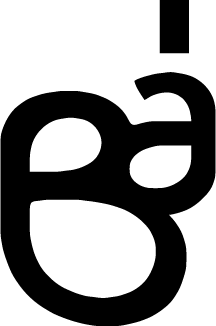


Eu sempre adoro seus textos!
👏👏👏👏
Texto fantástico, a maioria das pessoas tem dificuldade de falar sobre a morte, mas como disse é um processo normal entre um começo, meio e fim, depois de me tornar tetraplégica há 25 anos aprendi a ver a morte de forma tranquila por isso procuro ser grata por cada dia vivido, pois não se sabe do amanhã. ….
Linda crônica e pensamentos. É difícil ter um desprendimento. Admiro muito tua coragem e disposição. Grande abraço.